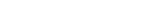Entre a Gare do Oriente e a estação do Cais de Sodré, passando pelo Rossio, em Lisboa, as tendas e pequenos abrigos feitos de cartão aglomeram-se, com imigrantes a ultrapassarem o número de portugueses a viver nas ruas. Entre eles, está Arlindo Jesus, de 42 anos, natural de Guimarães, que caiu na rua em 2016, até já conseguiu sair, mas acabou por voltar. Tem a esperança de sair dali, mas queixa-se que os trabalhos que arranja, a descarregar “uns camiões dos chineses”, pelos quais lhe pagam entre 10 e 30 euros por dia, não lhe dá para pagar uma casa.
Todos os imigrantes sem-abrigo abordados pela Lusa esta semana não tinham documentos, embora alguns tivessem deixado para trás um trabalho no Alentejo.
Vieram do Brasil, Índia, Nepal, Marrocos, Gâmbia, Senegal, Angola e muitos outros países, alguns só conseguem comunicar em inglês, e, apesar de a vida em Lisboa não lhes estar a correr bem, sobretudo com o vento e a chuva de inverno, raros são os que querem voltar para os seus países, já que acreditam que vão trabalhar e organizar as suas vidas aqui.
Por enquanto, vivem da ajuda de organizações, como a Comunidade Vida e Paz, uma das mais representativas de apoio aos sem-abrigo.
Todas as noites, nos dias úteis, pelas 20:00, as carrinhas da comunidade saem de perto da Avenida dos Estados Unidos da América rumo a vários pontos de Lisboa, carregadas de sandes, iogurtes, mantas e outros bens, como vestuário, que sabem que os sem-abrigo sinalizados necessitam.
Na noite em que a Lusa acompanhou os voluntários da comunidade, foram distribuídos 190 sacos com sandes, numa rota onde a maioria são imigrantes.
“Agora, até já temos sandes só de queijo”, afirma a voluntária Joana, sinalizando que há muitos imigrantes de religião muçulmana, que não comem fiambre, porque é de carne de porco. ”No pork”, avisam.
“Os imigrantes justificam uma boa parte do crescimento significativo do número dos sem-abrigo”, nos últimos anos, afirma Celestino Cunha, coordenador “das voltas” da Comunidade Vida e Paz. O crescimento estimado por esta organização é de 25%.
Wiston Dyone, brasileiro, 39 anos, chegado do Brasil em 2019, o único sem-abrigo estrangeiro que aceitou ser filmado, ao lado do português Arlindo Jesus, natural de Guimarães, seu companheiro de infortúnio, justifica o estar ali: “Estou passando por uns momentinho mau. Há uns quase cinco meses terminei um casamento, perdi duas filhas no último ano”, contou à Lusa, poucos dias depois de sair da prisão, onde passou o Natal e o Ano Novo “por briga” e por ter partido uma montra.
“E ainda me ficam ligando quase todos os dias para pagar 430 euros para enterrar a minha filha, que nem eu tinha. Amanhã vou lá ver o que é que aconteceu com isso. (…) nem o luto respeitaram”, queixa-se.
Mas assegura que está a tentar “readaptar-se”. Afirmando que trabalha desde os 14 anos, conta que, em Portugal, já trabalhou “com obra, com pintura” e cita os nomes das empresas que o empregaram, pagando apenas cinco euros à hora, o mesmo que recebia em 2009, da outra vez que esteve em Portugal. “Um absurdo”, refere.
No Brasil tinha vida boa, garante, mas veio por causa dos filhos, que estavam em Peniche.
“Então, eu escolhi Portugal para minha casa e vou-me adaptar”, afirma.
O regresso ao seu país, apesar da situação difícil em que vive, está fora de questão para Wiston.
“Eu tenho o meu coração aqui” e, “até a tempestade passar, a gente tem de tentar aprender com ela”, diz, à porta da tenda de Arlindo, junto do viaduto da Avenida Infante Dom Henrique, que protege dezenas de tendas do lado de terra e de rio. O importante para Wiston Dyone “é não ficar parado”, pois, dentro de “uma semana, no máximo”, espera sair da rua.
Por enquanto, perdeu o passaporte e todos os documentos no dia da briga de dezembro, que o levou à prisão. Agora, pedem-lhe um documento com foto para tratar do visto CPLP e não tem.
Arlindo de Jesus vai assistindo tranquilamente à conversa. Quando se pergunta quantos imigrantes existem ali, diz: “Aqui tem três ou quatro brasileiros, meia dúzia de portugueses e o resto são nepaleses, indianos e tem aqui muitos marroquinos”.
Arlindo, de 42 anos, natural de Guimarães, também tem a esperança de sair dali, mas queixa-se que os trabalhos que arranja, a descarregar “uns camiões dos chineses”, pelos quais lhe pagam entre 10 e 30 euros por dia, não lhe dá para pagar uma casa. Caiu na rua em 2016, até já conseguiu sair, mas acabou por voltar, conta.
Mais adiante, no Largo de São Carlos, debaixo de uma arcada, está Sarabjit Singh. Descalço, coberto por uma manta aos quadrados, que lhe esconde as pernas despidas sobre o papel de cartão onde se deita, uma delas com uma grande ferida num joelho inchado, o jovem indiano conta que escorregou num dia de chuva nas pedras da calçada portuguesa e esteve mal. Não foi ao hospital, mas procurou uma farmácia ali perto e encontrou o apoio que lhe permitiu melhorar.
Veio de Odemira, onde trabalhava na agricultura, à procura de mais emprego em Lisboa, mas perdeu documentos, não fala português, já não tem telemóvel, nem sapatos, nem calças e de vestuário só o que tem vestido, um blusão de tecido e uma camisa.
“Nos próximos sete dias não posso trabalhar”, conta, com ar assustado, confessando estar a precisar de ajuda.
Quando a voluntária Alexandra lhe deu uns ténis número 41, tentou calçá-los a todo o custo, mas não serviram e os seus olhos, que por momentos ganharam um certo brilho, voltam a perdê-lo.
Mesmo assim, o imigrante não equaciona sequer a possibilidade de voltar para a Índia.
“Não, eu vou evoluir, eu realmente acredito que vou conseguir trabalhar”, assegura.
Reportagem de Ana Tomás Ribeiro, da agência Lusa