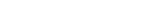ARTIGO DE OPINIÃO
Nuno Afonso
Mestre em Finanças pela NOVA SBE e licenciado na FEP em Economia. Atualmente a trabalhar no Banco Central Europeu
Ao contrário do meu artigo anterior, hoje escrevo a partir das margens do rio Vez.
Desfrutar da sombra de choupos e amieiros e de um solo macio para os meus pés junto ao rio ainda é possível, mas nas florestas do Alto Minho e, em geral, do Centro e Norte de Portugal, torna-se cada vez mais difícil reencontrar esses prazeres na tranquilidade da floresta.
Reconheci esta emergência bem antes da edição deste ano do evento Incêndios, quando passeava a norte de Leiria em direção ao mar e vi muita floresta ardida. Desde esse momento, tornei-me um observador atento e quando caminho perto da casa dos meus pais e dos meus avós, ambas em Arcos de Valdevez, vejo paisagens desordenadas onde espécies invasoras e mato seco proliferam.
Comecei a investigar. Falei com inúmeros agentes envolvidos, consultores florestais, diretores de associações, engenheiros, agricultores e criadores de gado, académicos, e fui lendo livros, artigos de opinião e investigação. E aí começou o desfile: Integração, sustentabilidade, resiliência, ecologia, sinergias, circularidade, certificações, ZIFs, corredores ecológicos, baldios, ICNF, cadeias de valor, monitorização, APA, conservação genética, AIGPs e muito mais.
Isto é a realidade portuguesa. Ninguém nega a sua complexidade. É difícil. Contudo, não foi à toa que coloquei a palavra integração em primeiro lugar.
O lado positivo é que, pelo menos, já ninguém nega o problema. Várias métricas colocam Portugal na linha da frente a nível europeu, em matéria de desordenamento florestal e consequências facilmente quantificáveis, como os incêndios, erosão e intensidade.
Contudo, mais preocupante foram os testemunhos dos stakeholders com quem fui falando. Não foram positivos. E o futuro, nas suas palavras e expressões, não parece risonho.
Alguns queixam-se da falta de meios e investimento. Outros afirmam que o dinheiro abunda para as florestas através dos voláteis planos de ação e indecisas instituições. A dificuldade em gerir a dualidade caça ao subsidio/abandono rural é notória.
Argumento comum a todos é a fragmentação do sistema. Falta uma base legal sólida, a informação é dispersa e a burocracia é intensa. Veja-se um exemplo (um dos muitos com os quais alguns de vocês estarão familiarizados): num projeto florestal, o aval dos fiscalizadores demorou cerca de seis meses porque não tinham carrinha oficial para se deslocarem, mesmo uma tendo sido disponibilizada pelos empreendedores.
Outra problemática é a falta ou constante mudança de visão a longo prazo, ou gestão performativa.
Um exemplo concreto: apesar dos investimentos em reflorestação autóctone, passados cinco anos muitas áreas regressam ao mesmo estado, cobertas de combustível pronto a arder.
Também não é sustentável a alternativa de gastar milhões todos os anos em limpezas, como se o projeto fosse infinito ou pensado apenas para 20 anos.
Esta politiquice de vitrine acontece porque os incentivos não estão lá. Obviamente que todos queremos uma floresta melhor. Quase todos. E que pode haver muito boa gente, com muita vontade.
Contudo, o sistema, como está montado, vai sempre falhar, por princípio. É uma luta para ser o menos mau possível.
A estas situações delicadas junta-se outras tantas de natureza geográfica e demográfica que assolam o Alto Minho. A desertificação rural, a ultra fragmentação do território e o terreno acidentado.
Contudo, e até pode ser a ingenuidade da idade, mas acredito numa alternativa com raízes fortes, motivadores naturais e soluções endógenas e verdadeiramente integradas.
Antes de a apresentar, vamos fazer um contraste com aquilo que acho não ser uma solução. Há algumas semanas, na ressaca dos primeiros incêndios, todos devem ter ouvido o arquiteto Henrique Pereira dos Santos, na SIC Notícias, a afirmar que as florestas já não são geridas porque não têm economia e não há retorno para a gestão, e sugere pagar 100 euros por hectare a todos os que mantenham os seus matos abaixo de 50 centímetros.
Esta é uma solução que parece espetacular, caso não se pense muito nela.
Contudo, e deixemos de parte o disparate dos 100 euros por hectare, que não motivariam ninguém a limpar, e muito menos mandar limpar alguém pois perderia dinheiro, e não seria pouco, um hectare aqui não é igual a outro hectare acolá. Não é preciso ler Hayek para perceber que os preços não devem ser artificiais.
Por outro lado, concordo que a economia se transformou. Já não se vive para cultivo de subsistência. Não se jantam castanhas, não se dorme com as vacas em cortes para se aquecerem nem se têm filhos para aumentar o fator trabalho no campo. A verdade é que este modo de vida nunca foi rentável. Foi precário.
Contudo, engane-se quem considera a economia rural morta. O turismo rural no Alto Minho é um bom exemplo. Tem crescido de forma autêntica e endógena, valorizando o território, as tradições e criando novas oportunidades económicas.
A procura pela natureza tem impulsionado trilhos, desportos ao ar livre, mercado para produtos de alto valor como o mel, vinho e frutos silvestres e reforçado o investimento que transborda para o melhoramento da paisagem.
Ainda assim, o futuro que eu projeto para uma floresta saudável não depende apenas do turismo rural. Depende do Homem em perfeita harmonia com a natureza e o Estado, que nada é mais que o conjunto dos Homens: não deve ser uma muleta, mas sim o solo fértil que dá suporte ao crescimento sem definir a forma.
Note-se que não utilizei a palavra Plano, porque: 1. no panorama florestal português já tem conotação negativa, e 2. por supor que o futuro seria excessivamente delineado, não dando espaço à ordem criativa e espontânea.
Começando pelas raízes, acredito que a regionalização, não demasiado profunda, é fundamental. Não uma que criasse mais microdivisões que só confundem e multiplicam cargos, mas uma regionalização que desse autonomia suficiente para decidir e atuar em temas como a fragmentação do território, (alguns avanços já têm sido feitos através do BUPi), e fortalecimento da mobilidade e infraestruturas, essenciais para desenvolvimento rural e gestão florestal, que são interdependentes.
Esta descentralização permitiria ultrapassar um dos maiores bloqueios à concretização de projetos essenciais: a falta de motivação e de poder político por parte de quem está próximo da realidade.
Afinal, que relevância tem para um decisor em Lisboa ou para alguma instituicão sem exposicao a votos, a fragmentação territorial em Arcos de Valdevez?
Pelo contrário, se a região do Alto Minho dispusesse de uma autoridade com maior autonomia e responsabilidade por exposição mediática, essa proximidade geraria muito mais empenho e capacidade de ação.
A esta descentralização devem somar-se instrumentos fundamentais, alguns já existentes (como o fortalecimento de mercados locais, mecanismos de certificação, atração de investimento e introdução de tecnologia) mas ancorados numa base legal sólida e simples. Seria, sem dúvida, um avanço importante, mas não suficiente pois apenas com um modelo integrado e sustentavel no longo prazo é possível transformar a realidade do território.
O que me leva ao núcleo deste artigo. Um modelo agro-silvo-pastoril integrado através de remunerações de pagamentos por serviços ambientais dinâmicos. O modelo ASP é, na essência, a coexistência da Natureza e o Homem. É o regressar de comunidades ativas ao mundo rural.
No Alto Minho, a aplicação deste modelo teria um enorme potencial por articular de forma inteligente o que a região já possui: pequenas aldeias, terrenos em mosaico, encostas aptas ao pastoreio e vastas áreas florestais. Com gado a circular naturalmente pelas serras, os matos seriam limpos de forma contínua, reduzindo drasticamente a carga combustível.
Paralelamente, a introdução ou recuperação de espécies autóctones como carvalhos, castanheiros e sobreiros reforça a biodiversidade e cria novos produtos de elevado valor económico, desde frutos secos a madeira nobre. O pastoreio, integrado com a agricultura, contribuiria ainda para a fertilidade dos solos, evitando erosão e melhorando a capacidade de retenção de água, fator crítico face às alterações climáticas.
Para garantir que este sistema se mantém atrativo e viável, seria essencial complementá-lo com pagamentos por serviços de ecossistema bem estruturados. Proprietários e comunidades que protegem o solo, mantêm habitats, promovem a regeneração natural e evitam incêndios estariam, assim, a ser justamente remunerados não apenas pelo que produzem, mas também pelo valor que geram para o mundo.
No Alto Minho, onde muitas aldeias sofrem despovoamento, este modelo poderia inverter a tendência: transformar custos em rendimento, riscos em oportunidades e a floresta num íman de pessoas ativas.
A formulação dos preços e do valor dos pagamentos por serviços de ecossistema (‘PSE’) não poderia, em circunstância alguma, ser fixa ou artificial, sob pena de repetir os erros dos subsídios tradicionais.
Os valores teriam de ser dinâmicos, refletindo a escassez relativa, a procura e a oferta de cada serviço (seja sequestro de carbono, proteção de solos, manutenção de espécies autóctones ou prevenção de incêndios).
Seria ainda desejável que estes mecanismos se articulassem com os deveres de contribuição por externalidades negativas, promovendo um sistema equilibrado e coerente. Ao Estado caberia um papel essencial: garantir a base legal, desenvolver mecanismos de monitorização robustos e investir em tecnologia capaz de discriminar preços e benefícios com precisão, assegurando transparência e confiança no sistema.
As cooperativas poderiam desempenhar aqui um papel inovador, atuando como agentes agregadores de PSE, reunindo pequenos produtores e facilitando a entrada destes num mercado mais competitivo.
Já as zonas comunitárias, pela sua escala e relevância histórica, teriam ainda maior importância, funcionando como grandes prestadoras de serviços de ecossistema, cujos direitos de utilização poderiam ser leiloados a prazo. Este modelo removeria muita da ineficiência e inércia típicas da lógica de subsídios e premiaria os efeitos positivos e o esforço.
Existem já alguns exemplos de PSE a nível nacional e internacional, desde projetos piloto em Portugal, como no Tejo Internacional ou na Serra do Açor, até experiências de silvopastorícia remunerada na América Latina com o programa RISEMP, ou esquemas de mercado voluntário de carbono no Reino Unido através do Woodland Carbon Code. Contudo, estas iniciativas são muito fragmentadas, dispersas e sem escala.
É precisamente essa ausência de integração que limita o seu impacto. O que se impõe é a criação de um grande projeto de PSE, capaz de agrupar num só quadro de mercado todas as externalidades positivas da floresta e do mundo rural.
Aqui, a União Europeia, que tanto proclama a centralidade da sustentabilidade, tinha uma oportunidade única para criar um mercado único. É nesse vazio que Portugal deve ter a coragem de liderar.
O que sugiro provavelmente não será perfeito, mas também não é estático. Este modelo pressupõe que o Homem tal como a Natureza tem capacidade para se transformar, adaptar e melhorar.
Através dos incentivos certos, o Homem age e assim a iniciativa privada pode andar de mão dada com a conservação, pois “separando a erva dos prados… exijo o mais íntimo e abundante companheirismo entre os homens” – Walt Whitman.